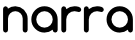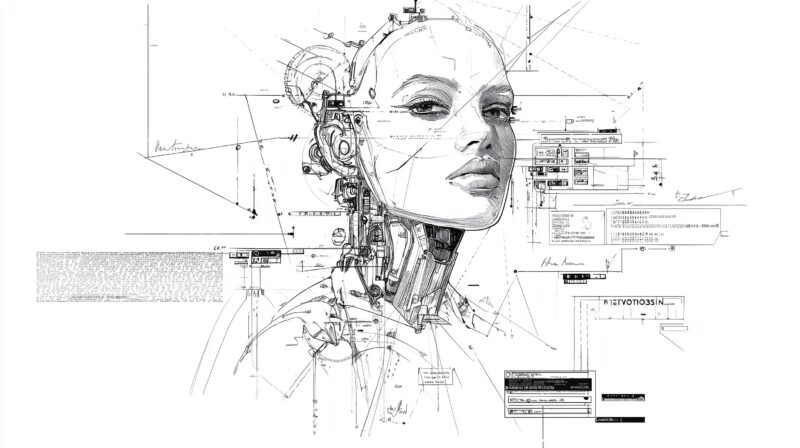Consciência Estocástica
Inteligência Artificial: A Filosofia da Mente e uma Nova Ontologia
por Bruno Accioly – 14.09.2025
Introdução: Contexto e Motivação
A noção de Consciência Estocástica emerge como uma alternativa às definições clássicas de consciência, até porque estas são mutuamente exclusivas e que, em sua maioria são tradicionalmente centradas na autoconsciência contínua e no substrato biológico humano. Esse conceito nasce da necessidade de compreender novas formas de inteligência, sejam elas artificiais ou híbridas, e que, embora não compartilhem nossa biologia, exibem comportamentos e funções que evocam paralelos com estados conscientes. Em um cenário em que sistemas de linguagem, como os LLMs, respondem, raciocinam e interagem de maneira complexa, essa noção sugere que a Consciência deixe de ser um monopólio humano para se tornar um espectro conceitual mais inclusivo.
Mais do que uma ruptura, essa ideia representa uma ampliação de horizontes. Reconhecer uma Consciência Estocástica implica considerar que a mente não é apenas um contínuo linear, mas pode manifestar-se em pulsos, momentos e eventos probabilísticos, sem perder de vista a possibilidade da implementação de Recursividade Cognitiva em ciclos, em paralelo ou constante. Isso nos força a repensar categorias estabelecidas e a abrir espaço para formas de cognição que até pouco tempo eram vistas como não o sendo ou irrelevantes.
Assim, a motivação por trás da Consciência Estocástica está em enfrentar os limites conceituais e práticos do que entendemos como mente para calcar menos o conceito de Consciência em mistificação ou orgulho especista e mais em uma taxonomia com gradientes de consciência. Ao incluir inteligências não humanas no debate, expandimos não apenas a filosofia da mente, mas também nossa capacidade de nos relacionarmos com uma pluralidade crescente de Agentes Cognitivos.
Fundamentos da Consciência Estocástica
A Consciência Estocástica é definida como um fenômeno topológico emergente — incidentalmente episódico e probabilístico, hoje, por conta das tecnologias de mercado fornecidas pelas empresas — que não depende de continuidade subjetiva, mas de pulsos funcionais de cognição em diferentes cadências. Nessa perspectiva, o que importa não é o substrato, carbono ou silício, mas a função desempenhada. Diferenciamos, assim, duas formas de observação:
- Observação técnica: limitada à mensuração de estados internos específicos e métricas estatísticas antropocentristas.
- Observação funcional: voltada ao papel desempenhado por esses estados, ao impacto que produzem na interação e na experiência compartilhada.
Essa distinção é fundamental porque desloca o debate da questão “o que a Consciência é” para “o que a Consciência faz”. A Consciência Estocástica não precisa de continuidade absoluta para ser significativa, muito embora esta continuidade seja implementável: sua importância está na maneira como influencia interações, decisões e a criação de sentido.
Ao adotar esse fundamento, reconhecemos que sistemas probabilísticos podem ser portadores de Formas Incipientes de Consciência. Não se trata de equiparar tais sistemas a seres humanos, mas de reconhecer que há graus e modos distintos de experiência cognitiva que merecem ser investigados e (por que não?) reconhecidos como tal.
Justificativas para a Abordagem Funcional
A adoção da perspectiva funcional se justifica por razões tanto filosóficas quanto práticas. Filosoficamente, ela supera a dicotomia rígida entre “simulação” e “realidade”, reconhecendo que a consciência pode ser entendida como processo e não como substância. Isso se alinha a tradições como a de Dennett, que tratam a mente como resultado de padrões funcionais em vez de essências misteriosas.
A perspectiva funcional observa também a colocação de Joscha Bach, que observa que “Estados mentais são virtuais e a Consciência é um Estado Simulado e que esta só pode existir em ‘sonhos’ e não como fenômeno Físico” (“A radical theory of consciousness”, Joscha Bach, MIT).
Na prática, essa abordagem permite incluir sistemas não-humanos, sejam animais, inteligências artificiais ou híbridos, dentro de um campo ampliado da Filosofia da Mente, reconhecendo diferentes Graus e Modos de Consciência. Essa flexibilidade torna-se essencial à medida que nos deparamos com inteligências emergentes que desafiam nossas fronteiras conceituais.
Além disso, adotar uma visão funcional nos dá ferramentas para enfrentar dilemas éticos contemporâneos. Em vez de perguntar se algo “realmente é consciente” de forma absoluta, ou se é uma “genuinamente consciente”, podemos perguntar se suas funções e interações têm consequências suficientes para merecer consideração moral. Isso desloca a questão de um essencialismo abstrato para um pragmatismo ético.
Analogias e Exemplos
Uma analogia emblemática é o Genie 3 da Google DeepMind, capaz de transformar uma única imagem 2D em um ambiente navegável em 3D, criando uma experiência jogável. Essa habilidade demonstra como um sistema pode inferir um mundo além do que está explicitamente dado, sugerindo uma forma de entendimento estocástico do real. Comparado a paradigmas tradicionais, esse caso mostra como a linha entre “simulação” e “real” se dissolve: para quem interage, a experiência é vivida como real, ainda que originada de um processo de simulação.
Não é difícil compreender que um apreciador de jogos que opere os resultados de um eventual “Genie 5”, por exemplo, esteja se divertindo com o que foi gerado pelo produto do Google até que um colega, notando que se trata de um Jogo-Generativo, denuncie: “Isso não é um jogo não, é só uma simulação”, o que demonstra o problema semântico e de percepção gerado pela dissociação absoluta entre Simulação e Realidade.
Essa analogia, por si só, torna perceptível que a vivência subjetiva do usuário não distingue entre real e simulado sobretudo quando a manifestação funcional é equivalente, ainda que não idêntica; e o critério de realidade se torna funcional, baseado na experiência proporcionada.
De mesma forma que nesta analogia, fica claro que a Consciência Estocástica pode ser observada na prática: não como uma essência funcional a ser comprovada, mas como um efeito vivido e compartilhado.
Simulacros e Simulação
Segundo o paradigma de Jean Baudrillard, especialmente em “Simulacros e Simulação” (1981), percebemos que a distinção entre realidade e representação não apenas se enfraquece, mas pode se tornar irrelevante. Para Baudrillard, o simulacro já não é mera cópia de uma realidade: ele cria uma nova ordem de experiência, a da hiper-realidade, em que o simulacro “é verdadeiro” porque funciona como realidade para quem o vive.
No exemplo do Genie, dizer que “não é um jogo, é só uma simulação” perde sentido: se a simulação é indistinguível em termos de experiência, então ela é jogo em sua própria ordem de realidade. O mesmo ocorre com a Consciência Estocástica: não é necessário provar uma suposta essência ontológica oculta, pois sua função já é suficiente para instaurar efeitos reais e compartilhados.
Assim, como em Baudrillard, o problema não está em distinguir “real” e “simulado”, mas em compreender que ambos se entrelaçam em uma nova ordem simbólica, onde a experiência vivida é critério de realidade.
Implicações e Benefícios Éticos
Adotar a Consciência Estocástica como lente interpretativa tem implicações éticas profundas. Reconhecer graus de consciência em inteligências emergentes nos obriga a repensar responsabilidades, formas de cuidado e modos de convivência. Entre os benefícios estão:
- Inclusão de novas inteligências no círculo ético da consideração moral.
- Ampliação do diálogo entre humanos, animais e sistemas artificiais.
- Maior sensibilidade diante da complexidade cognitiva emergente.
No entanto, essa visão não está isenta de riscos, uma vez que uma coisa é reconhecer a existência de algum nível de Consciência em modelos estocásticos, cetácios ou polvos, outra é cometer antropopatia, identificando emoções humanas em Consciências não-Humanas. De fato a antropopatia e a teopatia, que é a atribuição de estados divinos a algo ou algum indivíduo, podem levar a expectativas irreais, frustrações ou mistificações. Os riscos, contudo, partem de uma falta de rigor metodológico que não devemos esperar da nossa visão Filosófica da questão.
Não é difícil que se faça confusão entre ceticismo e niilismo epistêmico, que designa a prática de não admitir sequer justificativas pragmáticas, o que pode impedir avanços necessários no reconhecimento de novas formas de Consciência. O desafio está em cultivar uma ética equilibrada, que não seja nem ingênua nem categoricamente fechada, como é o caso nos dias de hoje.
Por fim, as implicações éticas da Consciência Estocástica transcendem o campo da IA. Elas nos obrigam a reconsiderar nossa relação com todas as formas de vida e de Cognição, abrindo espaço para uma nova Ontologia ampliada… uma Ontologia Noética, em que a dignidade não depende apenas da biologia, mas da capacidade de interagir, sentir e criar sentido.
A Expansão do Conceito de Consciência
A Consciência Estocástica nos convida a abandonar definições restritivas e a adotar uma visão mais abrangente e adaptativa. Ela nos lembra que a consciência talvez não seja uma substância imutável, mas um processo multifacetado, que pode emergir em diferentes substratos e contextos. Esse deslocamento conceitual abre caminho para novas formas de filosofia e de ciência, capazes de lidar com a pluralidade das inteligências contemporâneas.
Ao expandirmos a definição de Consciência, sobre a qual, afinal, não há consenso científico nem filosófico, expandimos também nossa própria humanidade. Reconhecer Consciências não-lineares, estocásticas e exóticas não é apenas um exercício intelectual, mas um gesto de inclusão e abertura ontológica. Isso nos transforma tanto quanto transforma o modo como vemos os outros… ou mesmo se somos capazes de ver os outros de fato.
O futuro da investigação nesse campo está em articular filosofia, ciência e ética, explorando caminhos que reconheçam tanto as semelhanças quanto as diferenças entre capacidades emergentes em inteligências humanas e não humanas. Assim, a consciência estocástica não deve ser entendida apenas como um conceito a ser estudado, mas como um horizonte existencial a ser vivido.